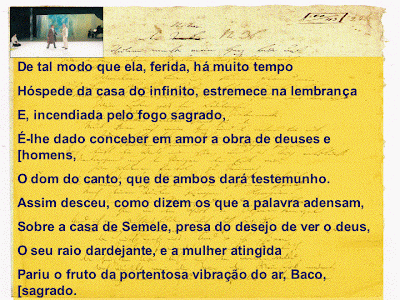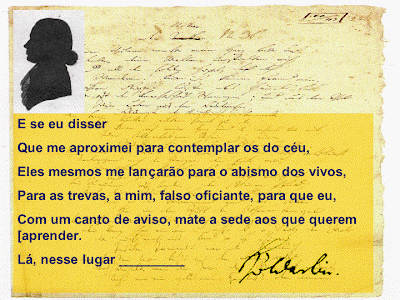CRÓNICA DA CASA FUTURANTE
O plano do mundo à imagem das palavras
(IV)
Os anos da luz e da cal
O plano do mundo à imagem das palavras
(IV)
Os anos da luz e da cal

A memória faz sofrer, a não ser que seja
transformada em matéria para pensar.
(Bernard Ziegler)
Recordo hoje, não os tempos de chumbo de uma Lisboa salazarenta que não via ainda nitidamente (nem de forma subtil como nos contos e romances de Maria Judite de Carvalho, que não conhecia nesses anos de liceu), não os anos do exílio voluntário na Europa do frio, mas o tempo da inocência feliz, quando o mundo não tem sombras e o corpo conhece apenas o júbilo da luz sobre a cal branca. Os anos da luz e da cal, das caiaduras ao anunciar-se mais uma Primavera. Para nós, nesses anos, só havia primavera.
.JPG)
Hoje posso, sem nostalgia, apenas com o prazer de sobrevivente dos anos, correr, em pensamento ou in loco, ao encontro dessa luz, de uma paisagem que a distância transfigura, mas é mais viva do que nunca, e tem lugar e nome. Aquela local habitation and a name de que fala já Shakespeare (em Sonho de Uma Noite de Verão), condição essencial do sentimento de pertença sem fanatismo nem paroquialismo.


Vejo aí terra e sol escaldante, uma rua e uma casa, rostos que se ausentaram, e outros que ainda podemos ver e tocar. O quadro contém, natruralmente, reminiscências inconfundíveis, farrapos de experiência, cheiros e cores e sons. Transformáveis em matéria para pensar, num momento em que, mais do que a caminho, estamos já a preparar a partida. Serenamente, como quem ouve uma música a chamar ao longe, e sabe que ela vai acabar (como esta que escuto agora, o andante moderato da quarta sinfonia de Brahms). Mas no lugar para onde esta música me leva, o que ouço agora são as cantigas das Maias, com ecos de branco e vermelho. Nesse lugar da infância estão todas as cores e todos os sons. Aí, é o reino onde tudo está no lugar certo, porque o desacerto só vem quando lhe damos nome. Sem nome, é território de sonho, mas palpável como poucos, anos depois. Estou a vê-lo e a cheirá-lo como se fosse hoje.

Eram os campos da Corredoura ou da Tapada dos Fornos, com eiras de brincar e carrinhos feitos de arame e latas de conserva, à beira de searas e favais; as mestras do Álamo e da Rua Larga, onde se aprendiam as primeiras letras, o ponto de cruz no bastidor e a obediência; as brincadeiras de pé descalço na rua, os jogos da «pata», do «eixo» e com a bola de trapos no «cantinho»; os dedos e a boca lambuzados debaixo das grandes amoreiras das Escolas Velhas; as Maias e as touradas à vara larga. Era o cheiro da esteva e do piorno a sair do forno do pão, e a «tiborna» com ele ainda quente, azeite e sal, para aquecer a alma em tempos em que o frio matava. Eram as saídas até ao lago e o medo dos ciganos, as brigas no adro da igreja de Santo António, as mobílias em miniatura feitas a preceito e os terrores da guerra distante, mas presente nas senhas de racionamento.

O mundo era feito de contrastes e injustiças, mas, de algum modo, estava em ordem — mesmo quando o padre Zé Agostinho, de maus fígados, tratava mal o povo e dava bofetadas no pessoal menor, mesmo nas tardes em que eu me encostava à parede na Rua dos Arcos para, com um misto de temor e inveja, deixar passar a charrete do senhor director da C., com os seus luzidios cavalos lusitanos.

O mundo estava em ordem porque ali quase não chegavam jornais — a não ser ao «Grémio», mítico lugar subversivo e onde se ouviam, nas longas tardes de domingo, os empolgantes relatos de hóquei em patins com os «cinco violinos» — Emídio Pinto, Edgar, Jesus Correia, Correia dos Santos e Perdigão —, a arrecadar tudo quanto eram campeonatos da Europa e do mundo.
Aprendi muito mais tarde que o tempo, implacável fonte de rugas, envelhecimento e morte, também pode ser pródigo com quem sabe conservá-lo vivo. A memória é uma fonte de Castália que inspira e rejuvenesce quem bebe da sua água. Quando isso acontece, por poucos momentos que seja, o mundo volta a ser (quase) perfeito. Até que as notícias do dia lhe venham perturbar a superfície límpida. Uma superfície que para mim se fez — e, constato, volta a fazer-se cada vez mais — de uma matéria insifnificante e aparentemente inesgotável como a luz branca nas paredes caiadas. Será nisto que cada um de nós, como diz o filósofo, não sendo imortal como os deuses, pode ser eterno.

Aprendi muito mais tarde que o tempo, implacável fonte de rugas, envelhecimento e morte, também pode ser pródigo com quem sabe conservá-lo vivo. A memória é uma fonte de Castália que inspira e rejuvenesce quem bebe da sua água. Quando isso acontece, por poucos momentos que seja, o mundo volta a ser (quase) perfeito. Até que as notícias do dia lhe venham perturbar a superfície límpida. Uma superfície que para mim se fez — e, constato, volta a fazer-se cada vez mais — de uma matéria insifnificante e aparentemente inesgotável como a luz branca nas paredes caiadas. Será nisto que cada um de nós, como diz o filósofo, não sendo imortal como os deuses, pode ser eterno.

______________________________














.jpg)