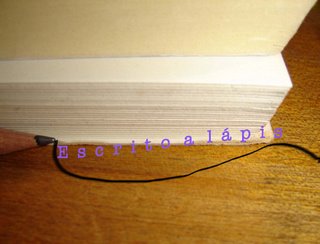
1 de Novembro 2006
DE LÁPIS NA MÃO
Escrevi um dia, a pedido do Hermínio Monteiro, um pequeno texto para a «Phala» da Assírio & Alvim, a que dei o título «O lápis e o livro». Aí dava conta de um modo de ler que marca a lápis o corpo dos livros, uma leitura em que a ponta da mina responde logo ao apelo do texto, transformando as suas páginas num campo arqueológico. O imperativo do lápis continua-se frequentemente na escrita definitiva de um ensaio ou de uma crónica. Escrever a lápis é apostar no fragmentário e no provisório, preparando o caminho do provisoriamente definitivo Mas é também sentir o vivo vegetal (a madeira e o carvão) nos dedos, a correr no papel, a hesitar sobre ele, a traçar o risco do pensamento que não se quer perder.
Trago lápis de todos os lugares por ode ando, em especial das lojas dos museus, mas não só, também de papelarias onde compro, ou deixo que me ofereçam, cadernos de formato A6 que me servem de bloco de apontamentos, mas sobretudo de cama onde se deitam todas as anotações ou textos mais ou menos acabados que me servem para as intervenções públicas (cada vez menos) que faço. Naturalmente que o lápis pode ser uma Art Pen, ou outra. O que importa é que seja um prolongamento da mão (direita), um suporte material do Vivo – pelo fio da tinta que corre, pelo cheiro que sobe, pela cor que acompanha as oscilações dos humores. Mudo a cor da tinta por fases, ao sabor da disposição ou do que tenho de escrever, para entrar em empatia com o destinatário.
 Um dia, quando a tradução das Obras de Walter Benjamin começou a gerar pensamentos, associações, catadupas de imagens paralelas com o mundo à minha volta, decidi manter um diário para Walter Benjamin. Dei-lhe o título «Ritos de Passagem» e comecei quando estava quase a terminar a tradução e comentário do primeiro volume. As páginas que aqui irei inserindo, até um dia que não sei quando será, darão apenas conta desse diário manuscrito, acompanhado de fotografias e desenhos, numa montagem naïve e despretenciosa.
Um dia, quando a tradução das Obras de Walter Benjamin começou a gerar pensamentos, associações, catadupas de imagens paralelas com o mundo à minha volta, decidi manter um diário para Walter Benjamin. Dei-lhe o título «Ritos de Passagem» e comecei quando estava quase a terminar a tradução e comentário do primeiro volume. As páginas que aqui irei inserindo, até um dia que não sei quando será, darão apenas conta desse diário manuscrito, acompanhado de fotografias e desenhos, numa montagem naïve e despretenciosa. 
Começo pelo fim. Pelo lugar onde ficou o corpo desesperançado do «filósofo miserável» (como lhe chamaram os naturais da ilha de Ibiza no Verão de 1933), a pequena povoação de Port Bou, nos Pirenéus orientais, lugar de contrabando e de passagens entre uma França ocupada e a Espanha franquista, e limiar entre a vida e a morte. Desta morte fez o realizador argentino, judeu como Benjamin, David Mauas, um documentário notável, em que questiona a tese oficiosa do suicídio, em 26 de Setembro de 1940 («Quién mató a Walter Benjamin?», que a Culturgest mostrará em 2007, no âmbito de umas jornadas dedicadas a Benjamin).


Antes dele, já outro artista judeu, Dani Karavan, deixara em Port Bou um memorial impressionante, um sinal dessa passagem, à entrada do cemitério católico onde, contra todas as práticas impostas por padres e regedores franquistas, enterraram o filósofo suicida. Ou não. O certo é que, nessa noite de 25 para 26 de Setembro, ele ignorava que o seu corpo, se vivesse, seria desalfandegado livremente no dia seguinte. E decidiu, ele próprio ou alguém por ele, contrabandear a sua própria passagem, acelerando a entrada no futuro. Karavan assinalou fisicamente esse trânsito carregado de enigmas, e eu evoquei-o um dia nas páginas da extinta revista «Ler».

Sem comentários:
Enviar um comentário